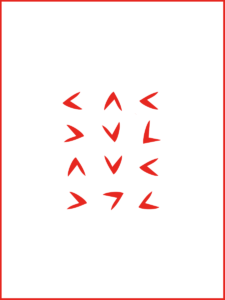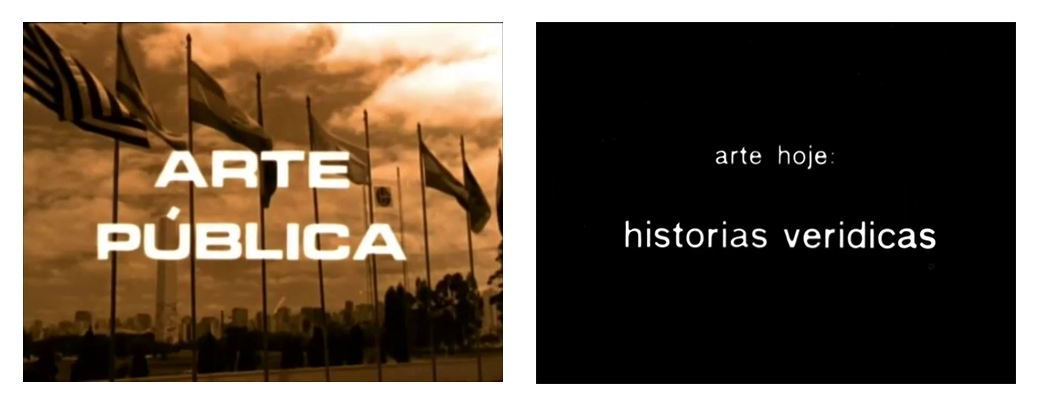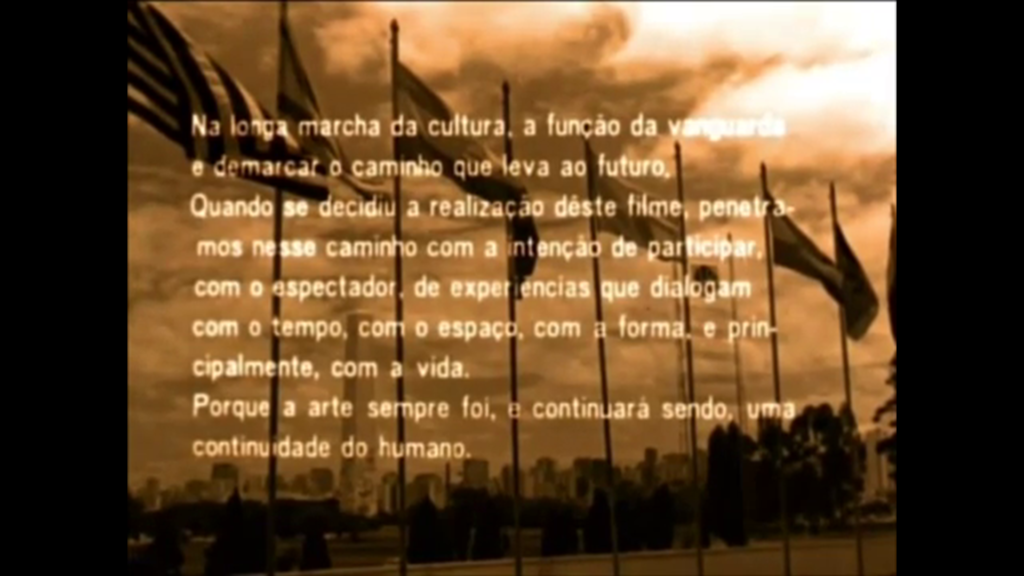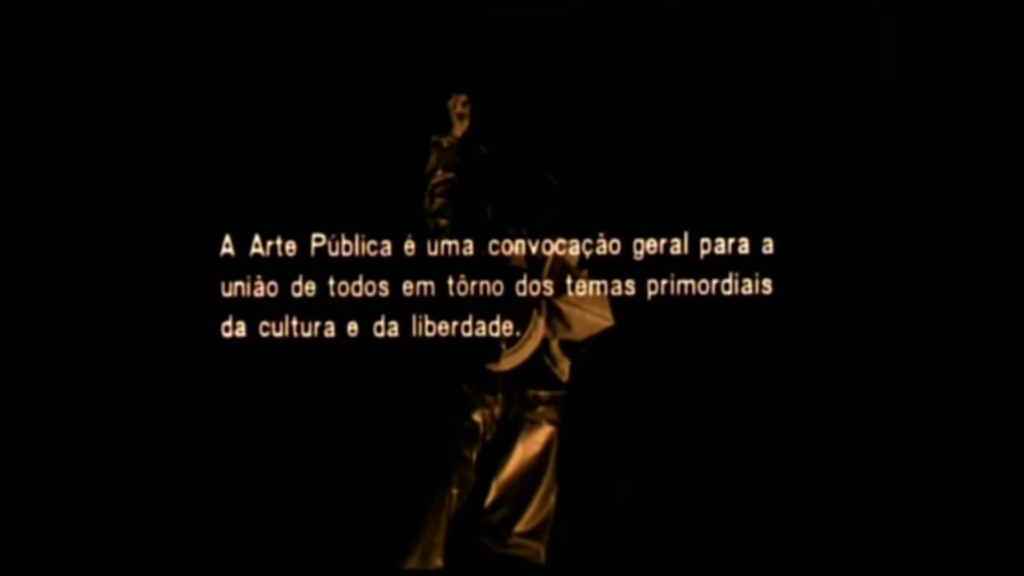NAVIO NEGREIRO
um espetáculo histórico
ELENCO
PARTES FALANTES
ESCRAVOS AFRICANOS – VOZES DE ESCRAVOS AFRICANOS
1º Homem (o que reza – esposo de Dademi)
2º Homem (o que xinga)
3º Homem (o que luta)
1ª Mulher (a que reza)
2ª Mulher (a que grita – atacada)
3ª Mulher (grávida)
Dançarinos
Músicos
Crianças
Vozes e corpos no navio negreiro
o escravo Velho Tom
novo Tom (Pastor)
HOMENS BRANCOS – VOZES DE HOMENS BRANCOS
Capitão
Marinheiro
Dono da fazenda – “Eterno Opressor”
ADEREÇOS
Efeitos olfativos: incenso…cheiro de terra/de sujeira/de corpos
Correntes pesadas
Tambores (Tambores bata africanos, e atabaque e bateria)
Chocalhos e tamborins
Música de banjo para atmosfera de fazenda
Sons de navio
Sinetas de navio
Oscilação e sons de água do mar
Armas e cartuchos
Chicotes/sons de chicote
Todo o teatro escurecido. Preto. Por muito tempo. Só preto. Um som ocasional, como navio rangendo, chiando, balançando. Cheiros do mar. Na escuridão. Deixar as pessoas no escuro, e gradualmente os odores do mar, e os sons do mar, e os sons do navio, da tripulação. Queimar incenso, mas fazer subir um cheiro notável, quase sufocante. Mijo. Merda. Morte. Processos da vida que acontecem de qualquer jeito. Comer. Esses cheiros e gemidos, os golpes e as lacerações de chicote, numa total sensosfera, alcançada de algum jeito.
Tambores africanos como os do culto de Orixá. Obatala. Chocalhos Mbwanga dos sacerdores. BamBamBamBamBum BumBum BamBam.
Balançar do navio negreiro, na escuridão, sem som. Mas com cheiros. Então um barulho. Agora, devagar, para fora da escuridão, com cheiros e tambores em staccato, os gritos medonhos. Todas as mulheres juntas, gritam. AAAAAIIIIEEEEEEEEEEEE. Tambores voltam, oscilando, oscilando; trevas pretas do navio negreiro. Cheiros. Tambores bem alto. Param. Grito. AAAAAIIIIEEEEEEEEEEE. Tambores. Trevas pretas com cheiros.
Correntes, o chicote, e pessoas gemendo. Ouve-se o som que sai dos atores. Sons de serem jogados para dentro do porão. AAAAIIIEEEEEEEEE. De gente, lançada nas trevas, amedrontadas, com raiva, espremidas juntas num terror compartilhado. As sinetas do navio. Vozes de Homens Brancos, do topo, prontos para zarpar.
VOZ 1: Vamos embora! Mas que carga boa de ouro negro, vamos! Vamos para o Oeste! Para o Oeste. (Risada longa) Ouro negro no Oeste. Temos uma bela carga.
VOZ 2: Sim, sim, Capitão. Seguimos nosso rumo. América! (Risos)
VOZ 1: Sim, ricos, seremos ricos! Seguimos nosso rumo. América! (Risos)
(Há apenas uma luz baça no topo do palco, para indicar onde as vozes estão…)
(Tambores africanos. Com o som de rapidez de dança, mas correndo em direção ao pesar que as trevas impõem. Os tambores desaceleram. O som vence a treva. “Onde estamos, Deus?”. Os murmúrios de resmungo ressoam abaixo. O zumbido de terror. As vozes começam a batucar contra as trevas.)
MULHER 1: Ooooooooooooooo, Obatalá!
MULHER 2: Xangô!
MULHER 1: Ooooooooooooooo, Obatalá…
(Choro de crianças no porão, e as mulheres tentando confortá-las. Tentando manter suas sanidades também)
MULHER 3: Moshake, chile, calma, foco. Moshake chile. Ah calma, Orixás, nos salvem!
MULHER 2: AAAIIIEEEEEEE
HOMEM 1: Quieta, mulher! Quieta! Guarda tua força pra tua cria.
MULHER 2: AAAIIIIEEEEEEE
HOMEM 1: Quieta, mulher estúpida! Calada!
MULHER 3: Moshake, amor, chile, calma, calma, isso vai te, ooooooooo
HOMEM 1: Xangô, Obatalá, façam sua luz, forjem o espírito brilhante com caminhos para o seu povo. Forjem, forjem, forjem.
(Tambores soam, mas eles são batidas nas paredes e no chão. Correntes chacoalham. Arrastar de correntes.)
(Temos a sensação de muitas pessoas amontoadas, homens, mulheres, crianças, sofrendo nas trevas. As correntes. Os chicotes, aumentar correntes e chicotes. Serem arrastados juntos. A dor. O terror. As mulheres começam a gemer e entoar canções, “Canção africana da tristeza”, com o roçar do chão e correntes como acompanhamento)
HOMEM 2: Fukwididila! Fukwididila! Fukwididila! Fodam-se, Orixás! Deus! Onde você está? Onde você está, Deus Preto? Me ajude. Eu ser um guerreiro forte, não mulher. E eu resisto a estas correntes! Mas você devem me ajudar, Orixás. Obatalá!
HOMEM 3: Quieto, imbecil, você assusta as mulheres!
(As mulheres continuam cantando, gemendo. Crianças choram agora. Mães tentam confortá-las. Sensação de pessoas se movendo, tropeçando umas sobre as outras. Gritando enquanto tentam achar um “lugar” no fundo do navio, e então o longo fluxo de vontades diferentes, articuladas como gritos, grunhidos, choros, canções et cetera)
HOMEM 3: Puxe-as, puxe, quebre-as…puxe
MULHER 1: Ah, Obatalá!
MULHER 3: Oh, chile…minha chile, por favor, escape…você destrói…eu
HOMEM 3: Quebre-as…quebre
TODOS: Uhh, Uhhhh, Uhhh, Uhhh, OOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
MULHERES: AAAAAIIIIIIIEEEEEEEE.
TODOS: Uhhh, Uhhhh, Uhhh, Uhhh, OOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
MULHERES: AAAAAIIIIIIIEEEEEEEE.
(Tambores baixos, como um tamborilar, tornam-se batidas no chão, nas paredes, chacoalhar, e arrastar de correntes, sons de percussão que as pessoas fazem no porão de um navio. Os gemidos e a agonia de estarem amontoados. Crianças chorando incessantemente. As mães tentando confortá-las. Mais de uma criança. Meninas com medo de serem violadas. Homens tentando se libertar, ou se tornando crianças amedrontadas. Famílias separadas pela primeira vez)
MULHER 2: Ifanami, Ifanami…cadê você?? Cadê você? Ifanami.
(Chora)
Por favor, ah, Deus!
HOMEM 1: Obata…
(Tambores suaves…começam a cantarolar…hummmmmmmmmmm, hummmmmmmmmm, como mulheres pretas velhas cantarolando por três séculos na miséria vagarosa da escravidão…hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, hummmmmmmmmmmmmmm)
(As luzes lampejam nos homens brancos em roupas de marinheiros curtindo seus vícios…vozes baixas…hummmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm. As luzes para iluminar as pessoas brancas são repentinas, muito brilhantes e ofuscantes. Os homens brancos começam a rir e apontar, como se apontassem para a sujeira e para a miséria, e para a degradação das pessoas pretas. Eles riem. HAAAAAAAAHAAAAAHAAAHAAHAAAHAAHAAHAA. Quando são mostrados de novo eles estão rolando de felicidade. Apontando, dançando, pulando para cima e para baixo, HAHAHA hahaha Haaa…)
(O riso é abafado pelos tambores. E então a canção-gemido das mulheres…depois silêncio. Voltam os tambores, mais suaves, então o cantarolar, sem parar, numa enlouquecedora, crescente paciência-morte, rompida pelos gritos, e os bebês e os peidos, e os bebês chorando por luz, e jovens esposas chorando por homens. Gente velha clamando a Deus. Guerreiros clamando liberdade. Alguns praguejando contra os homens brancos.
HOMEM 3: Demônios! Demônios! Demônios! Monstros brancas! Filhos da puta! Monstros!
(Eles batem contra as paredes, e tentam romper as correntes presas nas paredes)
Brancos filhos da puta.
MULHER 3: Aiiiiieeeeeeeeeeeee.
HOMEM 1: Deus, ela se matou e matou a criança! Deus! Deus!
(Gemidos. Gemidos. Tambores leves, e o constante, quase enlouquecedor cantarolar…hummmmmmmmmmmmm, hummmmmmmmmmmmmmmm…como velhas pretas cantarolando para sempre numa paciência mortífera…hummmmmmmmmm hummmmmm hummmmmm)
MULHER 1: Ela se enforcou com a corrente. Sufocou a criança. Ah, Xangô! Nos ajude, Senhor. Ó, por favor.
MULHER 2: Por que nos deixou, Senhor?
HOMEM 1: Dademi, Dademi…ela morta, ela morta…Dademi…
(Ouve-se um homem destroçado com gemidos de morte, gritos)
Dademi, Dademi!
(Hummmmmmmmmmmmmmmmmm, Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuum, Hummmmmmmmm, Hummmmmmmmmmmmmmmmmmm. Tambores baixos, e gemidos…as correntes, e pessoas pretas sendo empurradas umas contra as outras, lutando por ar e espaço para sobreviver. Os homens pretos choram por suas mulheres. As mulheres pretas choram por seus homens juntas nas trevas, algumas chamam por Deus)
MULHER 2: Por favor, não me toque…Por favor…
(Agitada)
Ifanami, cadê você?
(Grita contra alguém que a toca na escuridão, apalpando-a, tentando arrastá-la para as trevas, empurrando-a contra o chão)
Akiyele…por favor…por favor…não, não me toque…por favor, Ifanami, cadê você? Por favor, me ajude…De…
HOMEM 1: O que você está fazendo? Sai de perto desta mulher. Ela não é sua mulher. Você vira um monstro também.
(Briga de dois homens nas trevas tentando matar um ao outro. Luzes mostram homens brancos sorrindo silenciosamente, os chicotes pendendo, em pantomima, ainda apontando)
HOMEM 3: Demônios. Demônios. Seus merdas sem alma.
(Todos os sons grotescos juntos.)
(O cantarolar recomeça. Sinetas do navio. Silêncio, e gemidos, e cantarolar, e movimentação de pessoas na escuridão. Indo para frente e para trás. Tentando sobreviver, e agora, sobre isso tudo, o som constante da risada dos marinheiros)
MARINHEIROS: AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
HOMEM 3: Eu mato vocês, demônios. Eu quebro essas correntes.
(Som de homens sofrendo com correntes pesadas)
Eu rasgo a sua cara. Esmago seu pescoço. Demônio. Demônios.
MULHER 1: Ah, ah, Deus, ela morta…e a criança.
(SILÊNCIO/Som do mar…se dissipa)
TODOS: (Cantatolando) HMMMMMMMMMMM HMMMMMMMMMMM HMMMMMMMMMMM HMMMMMMMMMMMMMMM HMMMMMMMMMMMMMMMMM
(As luzes se acendem repentinamente, mostram um “Negro” se arrastando. Luzes apagadas…tambores de guerreiros africanos antigos tocam…guerreiros heróis. As luzes piscam e acendem, mostram o homem preto se arrastando, chapéu na mão, coçando a cabeça. Luzes apagadas. Tambores de novo. O homem dançando no escuro, com sinos, como se estivesse livre, dançando velhas selvagens danças. Dançando nas trevas…dança iorubá. Luzes piscam brevemente, neste exato momento a dança para. Apagam. Acendem, para mostrar o Escravo, bunda esfarrapenta, chapéu esfarrapado na mão, se arrastando em direção ao público, se arrastando, coçando a cabeça e a bunda. Balançando a cabeça para cima e para baixo, concordando, concordando e concordando, enquanto os chicotes estalam. Luzes apagadas, piscam, e os marinheiros, com chapéus trocados para mostrá-los como donos de fazenda, ainda estão rindo; sem som, mas rindo e apontando, segurando seus flancos, e eles riem e apontam)
ESCRAVO: (Nas trevas)
Sim, sinhô, sim Seu Tim, sim, sinhô.
(As luzes acendem)
Tô feliz como um macaquinho, sim, sinhô, sim, Seu Tim, sim, Seu Booboo, tô tão feliz que num sei o que fazê. Sim, sinhô, o sinhô é tão lindo e tão bom, e charmoso também, sim, tô tão feliz que fico à toa coçando minha bunda escurinha.
(As luzes acendem no Escravo dançando para o senhor; quando ele para de dançar, faz uma reverência e se coça.)
(Luzes apagadas…aquele mesmo hummmmmmmmmm soa…com tambores baixos, mas o hum fica alto e abafa os tambores…hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. O riso sobressai ao cantarolar, aquela mesma risada fria e medonha, ficando mais alta)
MULHER 3: (Murmurando depois da morte)
Moshake…Moshake…Moshake chile, calma, amor.
(A mulher cede e chora um pouco, sem nenhum outro som que distraia, só o seu gemido e choro tristonho, pelo seu bebê. Correntes. Correntes. Arrastar de correntes. O cantarolar. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)
MULHER 2: AIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Todos: Uhh, Uhhh, Uhhh, Uhhh, Oooooooooooooooooooo.
(Silêncio)
(No começo, bem leve, mas aumentando o som. De banjos da plantação)
ESCRAVO 1: Reverendo, o que vamo fazê quano sinhô chegá?
(Ele parece amedrontado)
ESCRAVO 2: Nós vamo cortá o pescoço desse desgraçado!
(Banjos)
(Cantarolar…Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmm)
ESCRAVO 1: Reverendo, o que vamo fazê quando o homem branco chegá?
ESCRAVO 2: Nós vamo cortá o pescoço desse desgraçado!
ESCRAVO 3: Demônio. Monstro. Assassino de mulheres e crianças. Filho da puta sem alma!
ESCRAVO 1: Reverendo Turner, sinhô, o que vamo fazê quando o sinhôzinho chegá?
ESCRAVO 2: Cortá o pescoço daquele desgramado.
(As luzes acendem no mesmo escravo tipo “Tom”, ainda coçando a cabeça, mas aparentemente falando com um homem branco)
ESCRAVO: Hã, tá bem, Seu Tim…eles vão voltá
VOZ BRANCA: É o quê? Votar? Endoideceu?
ESCRAVO: Não, sinhô…Eu disse voltá…hã…tipo revoltá
(Risos…surgindo por de trás do diálogo)
VOZ BRANCA: Quando, rapaz?
ESCRAVO: Ahhh, essa noite, sinhô…eles dize que vão…cê me perdoe o palavreado…cortá o seu..hã…pescoço…
VOZ BRANCA: (Ri)
E quem está liderando essa “volta”
ESCRAVO: Hã…Reverendo Turner…sinhô
VOZ BRANCA: É o quê?
ESCRAVO: Hã…é isso…Reverendo Turner…sinhô…Agora posso ganhar aquele punhadinho a mais que o sinhô prometeu?
(Gritos, assim que as luzes apagam. AIEEEEEEEEIEIEIEIEIEIE. Armas de fogo, uma combinação de navio negreiro com início da revolta. Vozes dos senhores e escravos em combate)
VOZ BRANCA: Eu mato vocês, seus pretos. Pretos selvagens.
VOZ PRETA: Monstros brancos. Demônios infernais.
(Uma voz, cantarolando, cantarolando devagar, uma paciência mortífera hum HUMMMMMMMMMMMMMMM)
(Tambores de África, e os gritos de pretos e brancos em combate.)
(As luzes acendem em Tom, chorando como se estivesse se escondendo do combate, mastigando charque. Vozes de homens brancos celebrando a vitória. Outro pedaço de charque sai da escuridão. Tom agarra e enfia tudo na boca, rindo e se arrastando de um jeito esquisito, cantarolando enquanto come)
MULHER 3: (Voz morta sussurrando)
Moshake, Moshake…chile…calma, calma…vai ficar tudo bem,…Moshake, se acalma…
HOMEM 1: Monstros brancos!
Todos: Uhh. Ohhh. Uhhh, Uhhh
(Como se empurrassem algo muito pesado)
Uhh. Ohhh. Uhhh. Uhhh. Uhhh.
MULHER 1: Ifanami…
HOMEM 1: Dademi…Dademi.
MULHER 2: Akiyele…Akiyele…Senhor, marido, cadê vocês?…me ajudem…
HOMEM:…segura minha mão…mulher…
MULHER 2: Ifanami!
MULHER 3: Moshake!
(Agora as mesmas vozes, mas como se transportadas no tempo para fazendas de escravos, chamam nomes, nomes de escravos em inglês)
Todos: (Alternadamente, homem e mulher perdendo o parceiro para a morte, ou para o comércio de escravos, ou a aura de um constante medo da separação…)
HOMEM: Sarah.
MULHER: John.
MULHER 2: Everett. Meu deus, mataram ele.
TODOS: Mamãe, mamãe…vó, vovó. Willie. Ahhh, Senhor…morreram todos.
TODOS: Uhh. Uhhh. Uhh. Obatalá. Obatalá. Nos salve. Senhor. Xangô. Senhor das florestas. Devolva as nossas forças.
(Correntes. Correntes. Pessoas grunhindo e sendo arrastadas, espremidas umas contras as outras)
(Ouve-se um “Ó, Senhor, me leve, Senhor” e agora gritos de “JESUS, SENHOR, JESUS…NOS AJUDE, JESUS…”)
HOMEM 1: Ogum. Me dê armas. Me dê ferro. Minha lança. Meu osso e músculo, faça eles firmes com tensão para lutar. Ogum, me dê fogo e morte para que enfrente os monstros. Saravá! Saravá! Ogum!
(Tambores de fogo e sangue, brevemente altos e rompendo contra as trevas, mas depois se acalmam, se dissipam, até que se ouça apenas os gemidos, e o mesmo cantarolar paciente…de mulheres, agora nenhum homem, só mulheres…versos de “The Old Rugged Cross”…e apenas as mulheres e o cantarolar…o tempo passando na escuridão, um choro fraco, fraco, lastimoso, “Jesus…Jesus…Jesus…Jesus…Jesus…Jesus…Jesus…Jesus…Jesus…”)
(As luzes acendem, e o pastor de terno em pé com um chapéu na mão. Ele é o mesmo Tom de antes. Ele fala com sua congregação: “Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus”. E então, com um sorriso malicioso, tagarelando de forma pseudo-inteligente, como fala com seu senhor. Ele tenta ser, na verdade, crê que é, digno, tenta manter uma postura elevada, mas só consegue ficar reto de um jeito esquisito, como um poste)
PASTOR: Sim, nós entendemos…o problema. E, pessoalmente, eu acho que algum acordo pode ser alcançado. Nós não vamos ser violentos…no mínimo…porque entendemos a dignidade de Labaxúrias e do Espírito Sebento. Claro, que um trago não é um estrago mas um trato. Os pinguins fariam o mesmo. E eu tenho um bisonho que os merdas-cheirosas não vão integrar. Cabeça no presente. Eu tenho um bisonho…um tonho, nas colinas, com a sua mulher.
MULHER 3: (Voz de uma mulher gritando em busca de sua criança)
Moshake! Moshake! Moshake! beeba…beeba…Wafwa ko wafwa ko fukwididila
(Gritos…gemidos…tambores…um tom de luto…O pastor observa, cabeça virada só um pouquinho, como se estivesse com vergonha, ainda tentando conversar com os homens brancos. Então, um dos homens pretos, sai da escuridão e senta diante do Tom, com um embrulho que é o corpo ensanguentado de um bebê queimado, como se tivessem retirado-no de uma igreja que explodiu, deixa o corpo na frente do pastor. Ele para. Olha para a “pessoa”, ele age como o Tom de antes, com o é tenta esconder o corpo do bebê atrás de si, sorrindo, fazendo graça, o tempo todo mostrando os dentes e sendo “digno”)
PATOR: Éeeeeee…como eu dizia…Sinh..hã..Senhor Tastyslop…Nós escurinhos tamos prontos pra integrar…eu subi no monte, aleluia, um ministério. Sim. Sim. Sim!
(No fundo, enquanto o pastor está parado na sua postura de bobo, o som estridente de um saxofone acompanhado de bateria. O saxofone rompe a escuridão. Com o saxofone, outros instrumentos e bateria bem altos, começam as vozes gritando…)
HOMEM: Monstros! Monstros! Monstros! Ogum. Me dê lança e ferro. Me deixe matar…
(O cantarolar de antes…demorado…incrivelmente paciente, como se fosse durar para sempre, mas torna-se um OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: todos entoam e o criam um clímax)
(As luzes apagam. O som de Ommmmm misturado com os sons do navio negreiro, do saxofone e da bateria. Som das pessoas sendo jogadas umas contra as outras, mas agora é como se tentassem todos se levantar, se recompor. O som das pessoas se recompondo. Como mortos se reerguendo. E, junto disso, os mesmos sons do navio negreiro. Riso dos brancos sobre tudo isso. Riso de branco. A canção abaixo começa acompanhada de saxofone e bateria. Primeiro cantada)
TODOS:
Levanta, Levanta,
Corta as amarras, Preto, levanta
Seremos o que somos…
(Todos cantando “When We Gonna Rise”)
Quando vamos levantar, irmão
Quando vamos ultrapassar o sol
Quando vamos levantar nossas cabeças e vozes
Quando vamos mostrar ao mundo quem somos
Quando vamos levantar, irmão
Quando vamos tomar nosso lugar, irmão
Como se o mundo começasse agora
Quando vamos levantar nossas cabeças e vozes
Mostrar ao mundo quem somos
Deuses-guerreiros, apaixonados, os Primeiros Homens a pisar nessa astro
Sim, sim, os primeiros a pisar nesse astro
Quanto tempo vai levar
Quando o mundo vai ser meu e seu
Quando vamos levantar, irmão
Quando vamos ultrapassar o sol
Quando vamos tomar nosso lugar, irmão
Como se o mundo começasse agora?
(Arranjo de bateria, sax e canto)
(Corpos sendo arrastados, na escuridão)
(Luzes acendem no pastor em outra parte do palco. Ele fica de pé, tagarelando coisas sem sentido com um homem branco. E o riso do homem branco pode ser ouvido tentando se sobressair à música, mas a música fica mais alta)
(Pastor vira para olhar para a escuridão e para as pessoas sendo arrastadas atrás de si, com vergonha, mas então começa a ficar assustado. A risada assume um tom menos arrogante.)
MULHER 3: Moshake. Moshake.
HOMEM: Ogum, me dê o aço.
TODOS: Uhh. Uhh. Ohh. Uhh. Uhhh
(O cantarolar fica mais alto também, no fundo. Ainda cantam “When We Gonna Rise”. O pastor se contorce, se vira para olhar, e repentinamente seus olhos se abrem muito, as luzes ficam mais claras, muito, muito lentamente, quase que imperceptivelmente. Pode-se ouvir uma cantoria, misturada com tambores africanos, e vozes, gritos, resmungos, do navio negreiro. O pastor fica inquieto, como se não quisesse estar onde está. Ele olha para o senhor procurando ajuda. Sua voz trêmula, enquanto as luzes acendem e todos vemos as pessoas no navio negreiro dançando “Miracles/Temptations’”. Alguns fazem danças africanas. Outros fazendo um novo Boogaloo, mas todos indo em direção ao pastor e em direção à voz. É uma nova dança ancestral, boogalooiorubá, mulheres, crianças, todos se movendo, estalando os dedos, cantando, e os bateristas, tocando o novo e o velho, se movendo, todos se movendo. Por fim, o pastor fica envergonhado e clama pela ajuda da voz branca.)
PASTOR: Por favor, sinhô, esses pretos endoideceram; por favor, sinhô, lança sua luz sobre eles, Jesus branquinho, deus branquinho, eles endoideceram! Socorro!
VOZ: (Tossindo, como se estivesse engasgando, tentando rir do pastor…ainda consegue rir do pastor) Tolinho. Tolinho
PASTOR: Por favor, sinhô, por favor…eu faço qualquer coisa…cê sabe, sinhô…Por favor…Por favor…
(Todos se misturam e matam-no. Então viram em direção à voz. Dançando. Cantando, de frente para a voz que agora suplica)
VOZ: HaaHaaHaaHaa
(A risada engasgada na sua garganta)
Hã..o quê?…vocês haha não podem tocar em mim…vocês têm medo de mim, pretos. Eu sou Deus. Vocês não podem matar Deus Jesus branco. Eu tenho um cabelo loiro escorrido. Eu nem uso peruca. Vocês me amam assim. Vocês querem ser como eu sou. Vocês me amam. Vocês me querem. Por favor. Eu sou bom. Sou gentil. Eu dou tudo o que quiserem. Eu sou o Jesus branco, seu Salvador, o único deus, te dou dinheiro, seu preto, eu sou bom, deus bom, por favor…por favor, não…
(Luzes começam a enfraquecer…os tambores e as vozes dos velhos escravos do navio retornam)
TODOS: Uhh. Ohh. Uhh. Ohh. Uhh. Ohh. Uhh. Ohh.
(Então aquele cantarolar terrível, se transformando num OMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmm, que é interrompido, pelo grito da voz branca sendo morta)
VOZ: AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(Todos os atores iluminados parcialmente, neste ato. Então as luzes apagam. Tudo preto)
(As luzes acendem abruptamente, e as pessoas no palco começam a dançar, o mesmo Boogalooiorubá, estalo de dedo, skate, macaco, cachorro…Entra o público; chamar pessoas do público para dançar. A mesma música “Rise Up”. Realmente vira uma festa. Quando a festa ficar bastante improvisada, et cetera, e a audiência relaxar, alguém joga a cabeça do pastor no meio do palco, isto é, quando a dança começar de verdade. Então tudo preto.)
Nota do tradutor: Depois de conversar com um querido amigo sobre esta peça, decidi traduzi-la para que ele pudesse ler, mais confortavelmente, em nossa língua. Traduzir nunca é tarefa fácil e, em se tratando da linguagem de Baraka, a tarefa de traduzir NAVIO NEGREIRO foi um grande desafio. Algumas liberdades foram tomadas em partes especialmente complexas do texto de Baraka, nas quais somente a invenção seria resposta adequada ao empenho tradutório. Além disso, como se trata de uma tradução concebida para a leitura, talvez não soe adequada para a encenação, necessitando ajustes vindouros que minha falta de conhecimento de teatro me impedem de realizar mas que deixo nas mãos de quem quiser se enveredar por essas sendas.